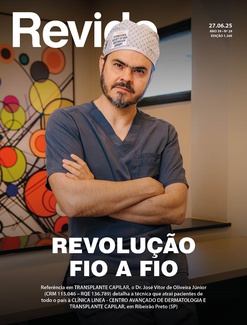Avaliação educacional (3): o desempenho dos alunos
Abordar
a relação existente entre desempenho escolar e habilidades cognitivas de
estudantes com as políticas públicas a eles oferecidas é o objetivo deste texto.
Uma vez que tal abordagem trata de intervenções públicas, somos obrigados,
necessariamente, a considerar dados agregados, e não dados individuais. Para
tanto, talvez um exemplo possa significar melhor o que estamos querendo
refletir. Considere duas crianças de 11 anos e uma prova de matemática valendo
de
Ao longo dos últimos anos, tanto em
nível nacional, quanto internacional, diferentes tipos de avaliações têm sido
implementados, todos visando capturar o desempenho de nossos alunos,
comparando-os regionalmente ou com outros países. Como exemplos de aferições do
desempenho estudantil no País, podemos citar o SARESP (Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio), ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e exames
vestibulares gerais, como, FUVEST, VUNESP, UNICAMP, entre outros. Já em nível
internacional, o TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
e o PISA (Program for International Student Assessment) são avaliações usadas
para comparar o desempenho estudantil entre diferentes paises. Todos,
respeitando-se suas especificidades, procurando dizer, de um modo ou de outro,
o quão bem nossos jovens estudantes estão preparados para enfrentar os desafios
do futuro. Mas, na realidade, o quê todas estas avaliações tentam capturar é se
os estudantes são capazes de analisar, raciocinar e comunicar suas idéias
efetivamente. Neste contexto, tais provas tentam, fundamentalmente, aferir a capacidade
de nossos estudantes em continuarem a aprender por toda a vida.
A rigor, o grande dilema que se
apresenta em todas estas avaliações é se elas devem focar o conhecimento de conteúdo
em matemática, leitura, escrita e ciências, ou as habilidades, competências,
raciocínio e capacidade de análise, aqui incluindo os demais atributos
incorporados nos indivíduos, relevantes que são para o bem-estar pessoal,
social e econômico dos mesmos. Ou seja, quando testando diretamente o
conhecimento, e as habilidades escolares básicas, tais avaliações examinam o
grau de prontidão dos estudantes para a vida adulta. E, por conseguinte, a
efetividade do sistema educacional. Ademais, muitas são as avaliações que focam
o potencial do capital humano, no sentido de que este tenha uma participação
democrática e social na vida adulta. Todas dando condições às pessoas para se
tornarem contínuos aprendizes. Em síntese, no contexto da teoria das
habilidades cognitivas, tais avaliações tentam capturar duas formas de
inteligência, a saber: a fluída e a cristalizada. Esclarecendo que, por
inteligência fluída devemos entender nossa capacidade de raciocinar e pensar,
abstratamente, bem como, de lidar com a complexidade e com aspectos inéditos e
originais. Representando, portanto, o estado atual de nosso poder cerebral. Já
a cristalizada, como o conhecimento adquirido através de intensa, e constante,
interação com o nosso ambiente de aprendizagem. Representando, por sua vez,
conhecimento ou experiência educacional, os quais fluem, geralmente, de nosso
estoque de conhecimento. É o conhecimento solidificado em nosso cérebro.
É certo que, ao menos teoricamente,
aqueles que têm maior inteligência fluída são capazes de processar informações
mais rapidamente, armazenando-as, e recuperando-as, por isso, em maior
quantidade. Assim consideradas, o grande dilema de todas essas avaliações
educacionais é saber qual destas inteligências, cristalizada (conhecimento) ou
fluída (raciocínio), deve ser focalizada. Cabe, portanto, indagar: “Qual delas,
fluída ou cristalizada, respectivamente raciocínio ou conhecimento, é o melhor
preditor para o sucesso na vida pessoal e profissional?”. Neste sentido, é vasta
a literatura que questiona estas diferentes formas de inteligência, revelando,
em suas sínteses, que os escores agregados, em testes de inteligência fluída,
correlacionam-se, altamente, com, indicadores educacionais oriundos do PISA e
TIMSS (em escrita, matemática, leitura e ciência) e mesmo com os indicadores de
produtividade científica e inovação tecnológica. Em adição, há, também, dados
indicando que os escores de inteligência fluída são altamente correlacionados
com o SAT (Scholastic Assessment Test), verbal e matemático, usado para
admissões nas universidades norte-americanas. Logo, é fácil entender que, fruto
destas altas correlações, as avaliações educacionais deveriam, essencialmente,
mensurar a inteligência fluída. Pois, é esta o verdadeiro abridor de portas na
vida. Importante que é, entretanto, não é sinônimo da excelência humana.
Finalmente, é relevante mencionar
que, avaliações internacionais comparativas, como TIMSS e PISA, permitem, aos
sistemas educacionais, monitorar o processo de ensino-aprendizagem, bem como, expandir,
e enriquecer, o panorama educacional nacional, ao estabelecer os níveis de
desempenho a serem alcançados por estudantes brasileiros, quando comparados com
aqueles de estudantes em outros países. Além disso, fornecem um contexto muito
maior, no bojo do qual, interpreta os resultados nacionais. Tais análises
comparativas ainda podem fornecer direções para os esforços instrucionais das
escolas e, para os estudantes, compreendendo as fraquezas e potencialidades dos
currículos adotados. A partir de tais resultados, com reforços apropriados, os
educadores podem motivar os estudantes a aprender mais, fomentarem professores
a ensinarem muito melhor, e as escolas, a se tornarem mais eficientes. Em
resumo, o sistema educacional pode verificar, comparativamente, se suas
políticas públicas têm dado frutos maduros e saborosos. E se recursos aplicados
não tenham se esvaído pelo ralo, ou sido desviados para outros fins.