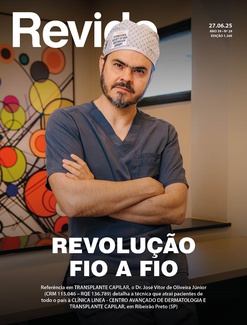A universidade é para todos?
O Instituto Paulo Montenegro divulgou, recentemente, pesquisa que identifica que 38% dos estudantes de ensino superior não dominam as habilidades básicas de leitura e escrita, isto é, não conseguem entender o que lêem e tampouco conseguem fazer relações com as informações que recebem. Vejam, estou falando de estudantes universitários, integrantes de ambientes nos quais tais etapas do aprendizado já deveriam estar, há muito, consolidadas. Este dado nos leva a fazer dois questionamentos: “Quais as razões para isso estar acontecendo?” e “Seria a universidade para todos?”. Em relação à primeira questão, nada quero aqui comentar, uma vez que a mídia impressa o vem fazendo constantemente, sempre enfatizando a baixa qualidade do ensino universitário, especialmente, do oferecido por instituições ávidas para explorar um público de baixa escolaridade que, não conseguindo adentrar nas universidades prestigiosas do país, por aquelas procuram.
Por outro lado, discutir que a universidade não é para todos implica abordar, no mínimo, cinco tópicos, a saber: (1°) o quão brilhante um indivíduo precisa ser para lidar com o conteúdo programático ministrado na universidade; (2°) qual é a competência da universidade em fornecer um conhecimento básico e comum a todo cidadão?; (3°) as universidades estão se tornando obsoletas no cenário educacional contemporâneo?; (4°) qual é a superioridade real do ensino superior? e (5°) até que ponto um grau universitário identifica cidadãos de “primeira” classe no mercado de trabalho?
No 1° tópico, a questão central é discutir quantos indivíduos podem, de fato, via habilidade ou competência cognitiva, lidar, efetivamente, com o conteúdo programático das disciplinas de artes e ciências, oferecidas em boas instituições. Em décadas não muito distantes, o conteúdo programático, ministrado em muitas instituições, requeria alta capacidade intelectual dos universitários, compatível, esta, ao alto padrão no qual tais universidades estavam inseridas. Entretanto, hoje, estas instituições são raras, o que permite que as disciplinas oferecidas por muitas delas se emparelhem à baixa competência cognitiva do egresso, possibilitando, a todos, obter o nível superior, independente da habilidade cognitiva que, até pouco tempo, era requerida pelas mesmas.
Em relação ao 2º tópico, grande número de instituições perde parte considerável do tempo, que deveria ser dedicado ao ensino dos conteúdos, ditos, “superiores”, ensinando aos egressos o que estes já deveriam ter aprendido no ensino médio, o que recai, novamente, em “todos os egressos têm a habilidade acadêmica básica necessária para absorver os conteúdos propostos neste núcleo-duro?”. A resposta é não, pois, muitos destes têm sérias limitações cognitivas para apreender história, literatura, filosofia, artes e ciências.
Por sua vez, sobre o 3º tópico, a obsolescência das universidades necessita a discussão da premissa de que a maioria dos egressos busca a instituição superior para adquirir conhecimento prático e vocacional. Mas, para inúmeras outras ocupações, tal conhecimento pode ser aprendido mais rapidamente, melhor atendendo as necessidades reais da empregabilidade atual. Em relação ao 4° tópico, há uma concepção generalizada de que obter uma graduação superior os ajudará a obter empregos melhor remunerados. Não obstante, no mercado atual de trabalho, a remuneração média, em muitas áreas graduadas, é menor que a de muitos que, embora sem graduação, são extremamente competentes em seus domínios. Isto porque a distribuição de renda, em qualquer profissão, varia, substancialmente, de acordo com a competência cognitiva daqueles que a exercem.
No 5° tópico, que questiona até que ponto um grau universitário divide cidadãos no mercado de trabalho, ou seja, estratifica a população em vários segmentos sociais, sabe-se que empregadores, cientes da formação diferenciada que instituições públicas e privadas, geralmente, conferem aos seus formandos, optam pelos grupos de formandos que saem das públicas, em detrimento das privadas. Entretanto, isto pode ser enganoso: muitos egressos competentes são formados em instituições privadas e à distância. Talvez, a funcionalidade do grau superior como um “sinal” de competência para o empregador deva ser substituída pelo desempenho “real” do egresso, que poderia ser aferido por exames, tipo os requeridos pela OAB e Toefel, que realmente avaliam o quê, exatamente, uma pessoa conhece, e não a instituição que lhe conferiu o grau superior. Portanto, tais exames devem medir, genuinamente, o “quê” os egressos realmente conhecem, e são hábeis a “fazer”, e não “onde” eles aprenderam, ou “quanto” tempo eles demoraram para aprender. Nós necessitamos aferir o “conhecimento” e não “graus” e “instituições”.
A mim, o fundamental é não negligenciar o papel da inteligência no cenário educacional, pois foi negligenciando-a que chegamos a um quadro desolador como este.